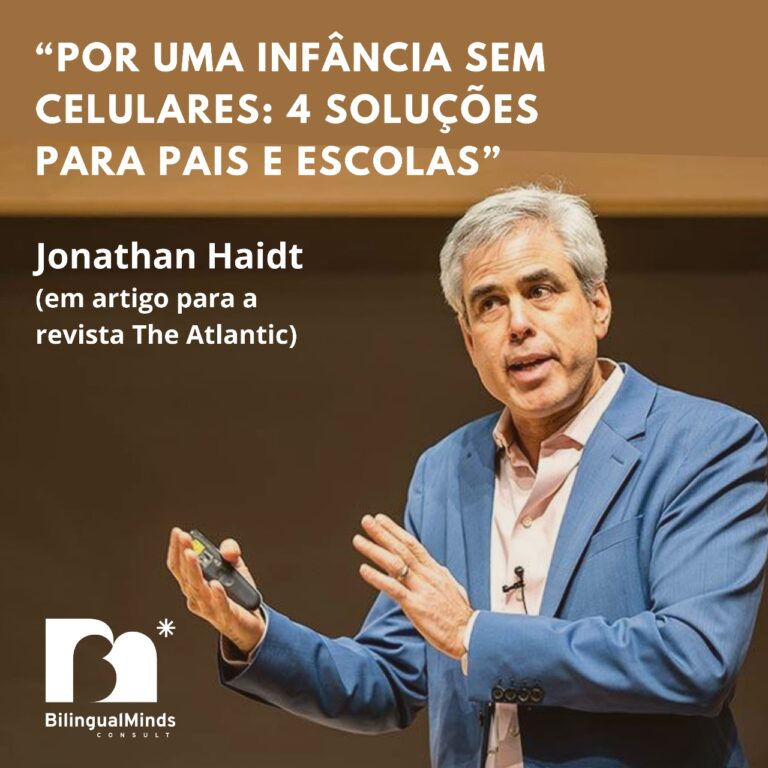Há quem pense que a tradução, essa antiga e essencial atividade humana, está se aproximando de seu fim. Há quem pense que os tradutores serão facilmente substituídos por máquinas, nos próximos meses ou anos, a mais tardar nas próximas décadas. Não declaro que estejam errados, sobre o futuro sempre erra quem afirma saber mais. Mas é bom que levem em conta a complexidade do caso, que entendam estarem falando de um dos atos mais difíceis e delicados de que nossa espécie é capaz, pedindo por isso um olhar cuidadoso.
Como a complexidade jamais se presta a uma visão total, limito minha contribuição à incompletude de algumas notas:
1) Traduzir é, de partida, um ato impossível. É a vontade inexequível de que uma palavra se torne outra palavra sem deixar de ser ela própria, de que uma coisa se torne outra coisa sem perder sua essência e qualidade. Traduzir é errar a mensagem, mas chegando tão perto dela que já não pareça de todo errada. Exige humildade, uma aceitação de sua impossibilidade. “Mas tudo o que o ser humano realiza de grande situa-se no campo do impossível”, pondera Ortega y Gasset, e assim enxergamos que há beleza nesse desejo irrealizável. Enxergamos o que a máquina não enxerga.
2) Curioso erro o que se comete seguidas vezes, um erro de tradução, quem sabe. O sujeito vai traduzir uma frase, uma expressão, uma palavra qualquer, e sente a obrigação de antepor a ressalva: “em tradução livre”. Está inseguro, eu sei, sente que lhe falta preparo para a escolha exata. Mas erra porque desconsidera que toda tradução é inexata, e que portanto toda tradução é livre. A liberdade é atributo inestimável de um tradutor, e pode se converter em sua maior qualidade. A máquina é capaz de muito, mas não é capaz de ser livre, e por isso parte em desvantagem.
3) Mas um tradutor não é de todo livre, pois não pode perder de vista o original, não pode emancipar sua palavra a ponto de descumprir a missão que lhe cabe. Como contemplar essa contradição própria da tradução, esse duplo mandamento, esse contrassenso insuperável? Com a palavra o mestre Boris Schnaiderman: “Foi necessário um longo trabalho para que eu aprendesse mais uma verdade palmar: o arrojo, a ousadia, os voos da imaginação, são tão necessários na tradução como a fidelidade ao original, ou melhor, a verdadeira fidelidade só se obtém com esta dose de liberdade.” Imaginação não é bem o ponto forte da máquina.
4) Schnaiderman fala do longo caminho que teve de percorrer para se tornar o grande tradutor que chegou a ser. Fala de seus inúmeros equívocos, fala de suas primeiras traduções em anonimato, tão precárias que jamais deveria tê-las publicado. Fala dessa caminhada sobre pedras, em obsessão contínua, com momentos de raro deslumbramento, verdadeira recompensa do ofício. Como não pode ter essa autocrítica ferrenha, perde a máquina. Como não se deslumbra, perde a máquina mais uma vez.
5) Breve comentário sobre a experiência de ser traduzido. É adorável ver um livro próprio ressurgindo em novo idioma, sobretudo quando se converte em algo ilegível, quando aparece em romeno, árabe, mandarim. Lê-lo em inglês ou francês é mais aflitivo, percebe-se o novo tom e o novo sentido, já se mostra outro livro que não o meu. Mas o pior tradutor que já me coube fui eu mesmo, numa versão ao espanhol. É penoso lembrar a agonia de realizar aquela violência com meu próprio texto, de corrompê-lo tão íntima e inapelavelmente. O tradutor deve ser sempre um outro. Se for o próprio autor, deve ele mesmo se tornar outro. A máquina não sabe se tornar outro, a máquina não sabe ser ninguém.
6) Entre as maravilhas que a máquina pode vir a nos proporcionar, destaca-se a possibilidade de falarmos em nossa própria língua e sermos entendidos de imediato pelos demais, nos mais remotos idiomas. Vejo o possível avanço a um só tempo com contentamento e melancolia. Mais eloquentes seremos nesses encontros, é verdade. Mas pode desaparecer a aventura que se vive ao explorar a língua dos outros, a reinvenção de si com outro tom e outra personalidade que se dá quando falamos um novo idioma. Nos tornamos outros sobretudo quando prescindimos da língua que nos define desde os primeiros murmúrios, as primeiras abstrações, os primeiros anos.
7) E devo dizer que desconfio dessa compreensão absoluta que ocorreria se cada um falasse não mais que a sua própria língua. Se não nos achegamos ao idioma dos outros, se não tratamos de decifrar as nuances infinitas de sua linguagem, nos mantemos apartados de seu mundo, aquém das profundezas de sua realidade. Decifraremos cada vez menos, por mais claras que se façam as palavras trocadas. Nossas diferenças poderão se acentuar, imperceptivelmente, nossos mundos já não se tocarão de fato.
8) A tradução é a suma confiança, apesar de tudo, no entendimento entre os povos e entre as pessoas. Mafalda, a querida personagem de Quino, foi quem melhor expressou o desejo secreto de todo tradutor, a quimera de toda tradução: deturpar as palavras originais para produzir uma compreensão veraz entre os distantes, até mesmo entre os contrários. Escrevemos e falamos, incansavelmente, por um impetuoso desejo de estarmos juntos, de já não estarmos sós. Traduzimos continuamente a nós próprios, é disso que se faz a palavra, e é por isso que ela pede continuamente mais tradução. A máquina, coitada, não teme a solidão.
(Artigo de Julián Fuks para o portal UOL, publicado em 21/09/2024)
*Julián Fuks é escritor e crítico literário. Nascido em São Paulo em 1981, é autor de A ocupação (2019) e A resistência (2015), livro vencedor dos prêmios Jabuti, Saramago, Oceanos e Anna Seghers. É doutor em Teoria Literária e mestre em Literatura Hispano-americana, ambos pela Universidade de São Paulo. Suas obras já foram traduzidas para nove línguas e publicadas em diversos países.